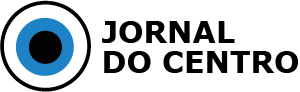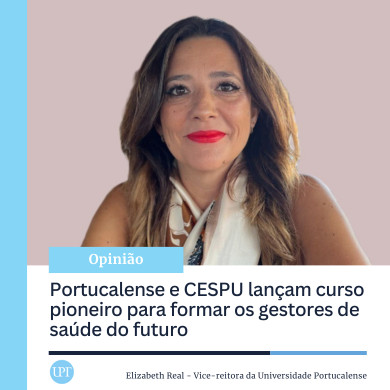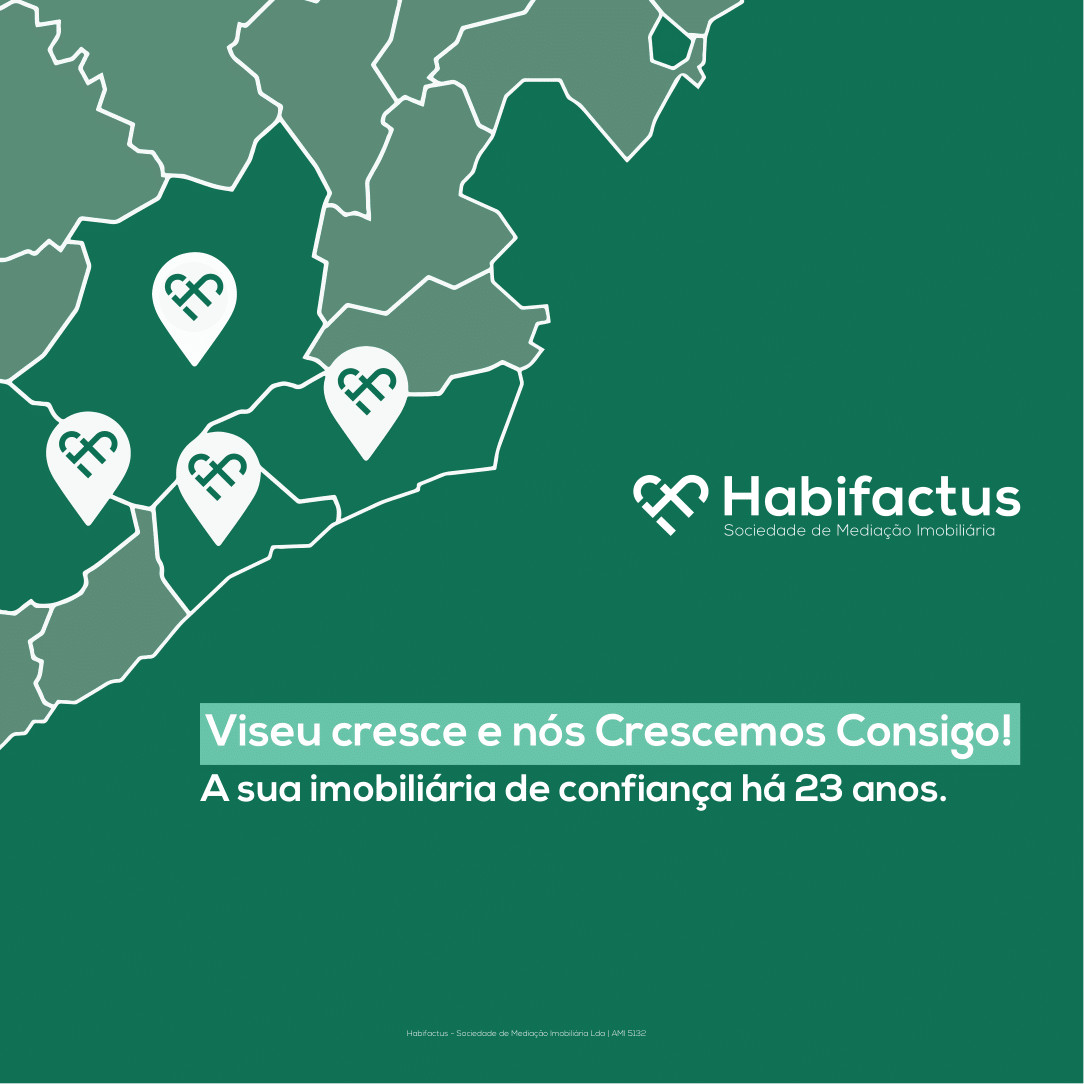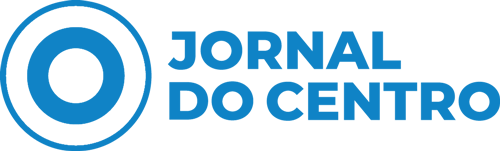Francisco Keil do Amaral, mais conhecido por Pitum Keil do Amaral, é arquiteto, escritor, artista, professor e também autor de uma coleção singular de cartões de Natal que atravessam décadas de memória crítica e afeto. Nascido em 1935, filho do arquiteto Francisco Keil do Amaral e da artista plástica Marial Keil, cresceu num ambiente profundamente marcado pela arte, pela política e pela resistência cultural ao Estado Novo. Ao longo de uma vida pautada pela criatividade e pelo compromisso cívico, Pitum distinguiu sempre, com ironia e consciência, entre o “respeitável Francisco” e o “simples Pitum” – duas faces de um mesmo legado familiar e pessoal. Estudou Arquitetura e desenvolveu projetos com forte componente social e urbanística. Ensinou na Universidade Católica, em Viseu, e trabalhou tanto em contextos rurais como urbanos. Manteve laços afetivos com a Beira Alta e fundou o Museu Keil Amaral, em Viseu – um projeto de memória e valorização cultural. Nesta entrevista, fala com humor, lucidez e sentido crítico sobre as suas raízes familiares, a repressão do Estado Novo, os dilemas da arquitetura contemporânea e a urgência de preservar o património cultural. Com ele, cada pergunta transforma-se numa reflexão – ou num alerta.
Há algo que o une aos seus avôs paterno e materno e ao seu pai – o nome Francisco. Será, portanto, mais fácil tratá-lo por Pitum. Porquê este nome?
Na minha família houve uma atração pelo nome Francisco. Avôs, pai, eu, um filho e um neto. Quando nasci, os meus pais, muito criativos, inventaram um nome de brincadeira: Zbiriguidum. Era difícil de usar no dia a dia e, com o tempo, tornou-se Pitum. Ficou como uma marca entre a família e os amigos. Não foi muito má ideia. Permitia-me assinar histórias com o simples Pitum e obras profissionais com o respeitável Francisco. Não era bem como o Dr. Jekyll & Mr. Hyde de “O Médico e o Monstro”, mas tinha algumas semelhanças.
O nome Zbiriguidum acabou por se refletir no seu trabalho criativo?
Sem dúvida. Criei, por exemplo, um personagem infantil chamado Zbiriguidófilo, inspirado nesse nome antigo. Teve algum sucesso junto da miudagem. Li a história na televisão e publiquei depois.
Esse gosto pela criação de histórias infantis surgiu apenas do impulso criativo ou foi alimentado pela sua formação em Ciências Pedagógicas e pela experiência como professor?
Lá diz o Fernando Pessoa que “o melhor do mundo são as crianças”. Pela sua inocência e recetividade sentimos que absorvem o que lhes queremos transmitir e têm esperança em algo cada vez melhor. Ao dedicar-lhes histórias, ilustrações, brincadeiras, estamos a reviver um pouco do que nos restou da nossa própria infância. É uma espécie de egoísmo.
Cresceu num ambiente muito ligado à arte. Isso influenciou o seu caminho?
Sim, claro. Tínhamos, a partir dos meus nove anos, uma casa relativamente espaçosa com duas divisões dedicadas aos ateliers dos meus pais. A minha mãe pintava e o meu pai trabalhava com três colaboradores nos seus projetos de arquitetura. Vivi imerso nesse ambiente até me casar, aos 25 anos. Poderíamos dizer que foi uma “lavagem ao cérebro”. Casado e com filhos pequenos não era fácil ter atelier em casa e a minha vida profissional foi praticamente passada fora dela. Mas a arte manteve-se na família e, curiosamente, influenciando mais as raparigas do que os rapazes.
Tal como o seu pai, manteve uma ligação forte à Beira Alta. Porquê?
A minha família tinha casas e propriedades em Canas de Senhorim e Santar. O meu pai quis preservar esse património por razões sentimentais. Eu, desde que nasci, vinha passar férias a Canas de Senhorim. Herdei o que restava desse património. Esta ligação afetiva fez-me terminar aqui a carreira: na Câmara Municipal de Nelas como técnico e na Universidade Católica, em Viseu, como professor. Conheço a Beira Alta como não conheço mais nenhuma. É com satisfação que vejo ganharem aqui raízes alguns filhos e netos, que podem vir a valorizar esta região. Se os deixarem, pois não está fácil. O interior do nosso país atravessa uma crise económica e de confiança muito séria.
O seu pai, Francisco Keil do Amaral, foi um arquiteto moderno e progressista. A sua mãe, Maria Keil, também se destacou pelo compromisso cívico. Ambos foram presos pela PIDE em 1953. Sente que herdou esse espírito contestatário?
A minha família já era liberal antes do meu avô Amaral e esteve ligada à Implantação da República. Sempre se opôs ao Estado Novo, o que trouxe consequências: o meu pai foi impedido de lecionar e afastado de trabalhos oficiais, exceto no tempo de Duarte Pacheco. Ele e a minha mãe foram presos pela PIDE em Caxias. Também manifestei a minha oposição ao regime, sempre que isso era mais ou menos “tolerado”.
Do ponto de vista profissional, o regime queria impor um estilo arquitetónico próprio, à imagem do que fizeram Hitler ou Mussolini, e travou o acesso à arquitetura moderna, que os jovens conheciam e queriam praticar. Aos artistas plásticos, como a minha mãe, também eram colocados entraves à exposição e à encomenda de obras.
Foi afetado pela repressão do Estado Novo?
Um regime conservador, autoritário e pidesco, presente desde que se nasce, provoca sempre uma autocensura.Podemos não nos dar conta disso, mas, desde o livro da primeira classe, é possível introduzir na cabeça das crianças ideias que as vão acompanhar toda a vida. “Deus, Pátria e Família” e o Dr. Oliveira Salazar fizeram parte da minha formação.Nunca fui preso, apesar de ser “do contra”, mas tinha ficha na PIDE. Já me ofereceram uma fotocópia. Dizia “acusado de ir a reuniões, de assinar abaixo assinados de protesto, de ir a manifestações, de conhecer certas pessoas, de dizer coisas contra o governo”. É claro que há países em que se é fuzilado por menos. Em comparação, os nossos costumes são brandos.
A arquitetura contemporânea parece oscilar entre o funcional e o espetacular. Sente que hoje se valoriza mais a criatividade do que a utilidade?
Talvez por termos vivido de perto a realidade social do país – tanto nas cidades como no meio rural –, o meu pai e eu sempre vimos a arquitetura como uma responsabilidade cívica: servir as populações, melhorar a qualidade de vida. Veja as obras que ele deixou: Parque de Monsanto, Campo Grande, Parque Eduardo VII, o aeroporto de Portela, o Estádio de Bagdad no Iraque, entre outras. São obras que não sobressaem pela sua ostentação, luxo ou custo desnecessário. Tudo com utilidade pública.
O que pensa da arquitetura que se faz hoje?
Hoje celebra-se o edifício mais alto, mais caro, mais “original”. Há luxo, consumo de energia desmedido, formas rebuscadas. Mas não se resolvem os problemas reais: habitação, mobilidade, ordenamento do território. A natureza tem sido sistematicamente destruída ou adulterada. O dinheiro que é investido na construção deste novo mundo não está a torná-lo melhor, mas sim cada vez mais problemático e desumano. Os engenheiros e os arquitetos têm uma liberdade quase total. Nunca houve nada assim! A arquitetura tornou-se espetáculo, muitas vezes desligada da “escala humana”. Isso tem consequências. Há cada vez mais pessoas a viver em condições desumanas – até com emprego e salário. Como pôr ordem num mundo assim orientado?
O livro “Boas festas. Precisamos delas a Vida Inteira” da sua autoria reúne 74 cartões de Natal que foi criando desde 1955. De onde vem essa tradição?
Na minha infância, era hábito enviar cartões de Boas Festas. A minha mãe chegou a ilustrar alguns para os CTT. Quando comecei a desenhar, a minha avó pediu-me um, por brincadeira – e ganhei o gosto. Era uma forma simpática de lembrar os amigos e familiares. Com o tempo, os cartões passaram também a incluir notícias nossas e, mais tarde, a refletir o que sentíamos sobre o mundo.
Com tantas crises – climática, política, social – torna-se mais difícil desejar um bom Natal?
Vejo as alterações climáticas com muita apreensão. Se o mundo dos meus netos já é preocupante, que dizer do dos bisnetos? Os políticos falam, mas quem realmente decide pouco se importa com o planeta. Ainda assim, quando partilhamos preocupações sérias, há uma tendência para nos aproximarmos. Talvez seja isso o espírito do Natal. Talvez, um dia, o nosso maior desejo seja ter água potável todos os dias. Que trágico isto está a ficar!
Mais do que originais, estes cartões refletem o contexto social, político e cultural em que surgem. Desde as “Boas Festas permanentes” após o 25 de Abril, passando pela queda do Muro de Berlim, até à viragem do milénio, cada um capta um momento. Há algum que gostaria de destacar?
Destaco um em especial: quando representei um presépio destruído pelos bombardeios, com casas em ruínas e pessoas em fuga. Foi doloroso, num cenário onde a tragédia parece constante. Hoje, confesso que me custa imaginar uma mensagem capaz de alegrar os amigos. Lembro também o cartão feito após a visita ao estúdio do fotógrafo Vicente, no Funchal, em 1969. Vestimo-nos com trajes antigos entre cenários e acessórios originais, tudo intacto e esquecido. Quisemos alertar para aquele património extraordinário. Anos depois, o estúdio foi recuperado e transformado numa espécie de museu. Demos um empurrãozinho…
Relativamente aos seus cartões natalícios escreve: “é sempre de lamentar que se espere tanto tempo até atribuir o devido valor aos documentos em causa”. Acha que a sociedade negligencia o valor dos artistas e dos arquitetos?
A frase a que se refere é uma generalização “à portuguesa” aplicável a muitas coisas, da qual os cartões natalícios até são das menos afetadas. Hoje há meios de comunicação com um alcance extraordinário. Nunca foi tão fácil expressar-se – visualmente, por escrito, por som… Mas tudo é condicionado por fatores económicos. O valor de artistas, arquitetos, escritores, cineastas, etc., depende muitas vezes de “cotações” voláteis, como na Bolsa. O gosto do público pode ser moldado por interesses comerciais da época. Em breve, talvez a Inteligência Artificial nos diga que tipo de arquitetura devemos fazer ou que livros escrever.
Já confessou uma certa admiração pelo facto de, cada vez mais, se ler menos. Isso vai ao encontro da dificuldade que sentiu em publicar alguns dos seus livros?
Basta ouvir um editor ou livreiro: vendem-se cada vez menos livros impressos. Culpa-se a leitura digital, mas eu não acredito muito nisto – raramente vejo alguém a ler romances num tablet ou sentados nos transportes. Nem mesmo em casa. É um meio aparentemente simples, mas muito complexo. Já escrevi histórias ou textos que gostaria de transmitir a outras pessoas. Fiz muitas tentativas para os editar em livro. Alguns foram publicados em edições “de autor” onde paguei eu. Para outros arranjei patrocinadores, que pagaram por mim. Estou certo de que nenhum recuperou o investimento feito. Concluí que há cinco fases na “vida” de um livro: escrevê-lo; arranjar um editor que o imprima; publicitá-lo; distribuí-los pelos locais em que possa ser vendido e receber o dinheiro das vendas. Penso que a primeira acaba por ser a mais fácil. As piores são a quarta e a quinta, porque são demoradas, de resultado duvidoso e dependentes de terceiros. Quem nada fez para criar o produto vai cobrar até 40% do valor da sua venda.
Para além de ligada às artes, pertence a uma família de colecionadores detentora de um património inimaginável com quase dois séculos de história. Organizar tudo num espaço museológico não foi tarefa fácil. Ainda assim, conseguiu inaugurar, em Viseu, o Museu Keil Amaral. Um sonho antigo?
A minha família está ligada às artes há quase duzentos anos – a criar, colecionar, estudar, preservar. Com o tempo, esse percurso gerou um espólio vasto e diversificado. É uma preocupação comum entre artistas e colecionadores: o que fazer com tudo isso? O meu bisavô, Alfredo Keil, reuniu uma valiosa coleção de instrumentos musicais antigos, a ser instalada no Convento de Mafra. As suas partituras foram entregues ao Estado. Mas e os desenhos, as pinturas, os cenários e os figurinos das óperas que escreveu? Ainda não conseguimos onde lhes proporcionar um destino bonito e útil para o público, depois de passar oitenta anos a bater a tantas portas. O mesmo se passa com a obra da minha mãe, Maria Keil, que justificaria um pequeno museu próprio.
Felizmente, nos últimos anos, há maior consciência sobre a importância do património cultural. O enorme crescimento do turismo fez mostrar que são um valor necessário e rentável. Hoje, vemos mais investimento na cultura: renovação de museus, criação de escolas ligadas às artes, formação de técnicos especializados… Ainda bem! O Teatro Viriato, em Viseu, é um bom exemplo: de edifício abandonado passou a espaço cultural ativo, com programação regular, companhia residente de dança e uma escola que hoje tem reconhecimento internacional.
Foi este contexto que o levou a avançar com a criação de um museu próprio?
Quando nos mudámos para Canas de Senhorim, nasceu a ideia de criar um museu que reunisse obras de doze artistas com laços familiares entre si e ligação à região de Viseu. Exposta a ideia à Câmara Municipal de Viseu, na pessoa do seu presidente Dr. Fernando Ruas, o acolhimento não podia ter sido melhor e o sonho concretizou-se. Achamos que valorizou a cidade e isso dá-nos alegria. Continuamos com a esperança de fazer ainda mais pela cultura nacional, criando centros culturais ligados às artes, ao ensino e não apenas museus clássicos. Espaços que animem a criatividade, sobretudo no interior do país, onde são mais urgentes.